O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) acaba de apresentar a PEC-51, cuja
finalidade é transformar a arquitetura institucional da segurança
pública, um legado da ditadura que permaneceu intocado nos 25 anos de
vigência da Constituição cidadã, impedindo a democratização da área e
sua modernização.

As propostas chave da PEC-51 são as seguintes: (1) Desmilitarização:
as PMs deixam de existir como tais, porque perdem o caráter militar,
dado pelo vínculo orgânico com o Exército (enquanto força reserva) e
pelo espelhamento organizacional. (2) Toda instituição policial passa a
ordenar-se em carreira única. Hoje, na PM, há duas polícias: oficiais e
praças. Na polícia civil, delegados e não-delegados. Como esperar
respeito mútuo, compromisso com a equidade e coesão interna desse modo?
(3) Toda polícia deve realizar o ciclo completo do trabalho policial
(preventivo, ostensivo, investigativo). Sepulta-se, assim, a jabuticaba
institucional: a divisão do ciclo do trabalho policial entre militares e
civis. Por obstar a eficiência e minar a cooperação, sua permanência é
contestada por 70% dos profissionais da segurança em todo o país,
conforme pesquisa que realizei com Silvia Ramos e Marcos Rolim, em 2010,
com apoio do Ministério da Justiça e do PNUD, na qual ouvimos 64.120
policiais e demais profissionais da segurança pública (cf. “O que pensam
os profissionais da segurança no Brasil?” Relatório disponível no site
do MJ). (4) A decisão sobre o formato das polícias operando nos estados
(e nos municípios) cabe aos Estados. O Brasil é diverso e o federalismo
deve ser observado. O Amazonas não requer o mesmo modelo policial
adequado a São Paulo, por exemplo. Uma camisa-de-força nacional choca-se
com as diferenças entre as regiões. (5) A escolha dos Estados
restringe-se ao repertório estabelecido na Constituição –pela PEC–, o
qual se define a partir de dois critérios e suas combinações:
territorial e criminal, isto é, as polícias se organizarão segundo tipos
criminais e/ou circunscrições espaciais. Por exemplo: um estado poderia
criar polícias (sempre de ciclo completo) municipais nos maiores
municípios, as quais focalizariam os crimes de pequeno potencial
ofensivo (previstos na Lei 9.099); uma polícia estadual dedicada a
prevenir e investigar a criminalidade correspondente aos demais tipos
penais, salvo onde não houvesse polícia municipal; e uma polícia
estadual destinada a trabalhar exclusivamente contra o crime organizado.
Há muitas outras possibilidades autorizadas pela PEC, evidentemente,
porque são vários os formatos que derivam da combinação dos critérios
referidos. (6) A depender das decisões estaduais, os municípios poderão,
portanto, assumir novas e amplas responsabilidades na segurança
pública. A própria municipalização integral poder-se-ia dar, no estado
que assim decidisse. O artigo 144 da Constituição, atualmente vigente, é
omisso em relação ao Município, suscitando um desenho que contrasta com
o que ocorre em todas as outras políticas sociais. Na educação, na
saúde e na assistência social, o município tem se tornado agente de
grande importância, articulado a sistemas integrados, os quais envolvem
as distintas esferas, distribuindo responsabilidades de modo
complementar. O artigo 144, hoje, autoriza a criação de guarda
municipal, entendendo-a como corpo de vigias dos “próprios municipais”,
não como ator da segurança pública. As guardas civis têm se multiplicado
no país por iniciativa ad hoc de prefeitos, atendendo à demanda
popular, mas sua constitucionalidade é discutível e, sobretudo, não
seguem uma política nacional sistêmica e integrada, sob diretrizes
claras. O resultado é que acabam se convertendo em pequenas PMs em
desvio de função, repetindo vícios da matriz copiada. Perde-se, assim,
uma oportunidade histórica de inventar instituições policiais de novo
tipo, antecipando o futuro e o gestando, em vez de reproduzir equívocos
do passado. (7) As responsabilidades da União são expandidas, em várias
áreas, sobretudo na uniformização das categorias que organizam as
informações e na educação, assumindo a atribuição de supervisionar e
regulamentar a formação policial, respeitando diferenças institucionais,
regionais e de especialidades, mas garantindo uma base comum e afinada
com as finalidades afirmadas na Constituição. Hoje, a formação policial é
uma verdadeira babel de conteúdos, métodos e graus de densidade. O
policial contratado pela PM do Rio de Janeiro para atuar nas UPPs é
treinado em um mês, como se a tarefa não fosse extraordinariamente
complexa e não envolvesse elevada responsabilidade. A tortura e o
assassinato de Amarildo, na UPP da Rocinha, não foram fruto da falta de
preparo, mas do excesso de preparo para a brutalidade letal e o mais vil
desrespeito aos direitos elementares e à dignidade humana. A tradição
corporativa, autorizada por fatia da sociedade e pelas autoridades,
impõe-se ante a ausência de uma educação minimamente comprometida com a
legalidade e os valores republicanos. De que serve punir indivíduos se o
padrão de funcionamento rotineiro é reproduzido desde a formação, ou no
vácuo produzido por sua ausência? (8) A PEC propõe avanços também no
controle externo e na participação da sociedade, o que é decisivo para
alterar o padrão de relacionamento das instituições policiais com as
populações mais vulneráveis, atualmente marcado pela hostilidade, a qual
reproduz desigualdades. Assinale-se que a brutalidade policial letal
atingiu, em nosso país, patamares inqualificáveis. Para dar um exemplo,
no estado do Rio, entre 2003 e 2012, 9.231 pessoas foram mortas em ações
policiais. (9) Os direitos trabalhistas dos profissionais da segurança
serão plenamente respeitados durante as mudanças. A intenção é que todos
os policiais sejam mais valorizados pelos governos, por suas
instituições e pela sociedade. (10) A transição prevista será prudente,
metódica, gradual e rigorosamente planejada, assim como transparente,
envolvendo a participação da sociedade.
Por que a PEC-51 me parece decisiva? Por que considero indispensável e
urgente a desmilitarização e a mudança do modelo policial? As respostas
se apoiam na seguinte tese: o crescimento vertiginoso da população
penitenciária no Brasil, a partir de 2002 e 2003, seu perfil social e de
cor tão marcado, assim como a perversa seleção dos crimes privilegiados
pelo foco repressivo, devem-se, prioritariamente, à arquitetura
institucional da segurança pública, em especial à forma de organização
das polícias, que dividem entre si o ciclo de trabalho, e ao caráter
militar da polícia ostensiva. Devem-se também às políticas de segurança
adotadas e não seria possível, no modo em que transcorre, se não
vigorasse a desastrosa lei de drogas. Observe-se que a arquitetura
institucional inscreve-se no campo mais abrangente da justiça criminal, o
que, por sua vez, significa que o funcionamento das polícias,
estruturadas nos termos ditados pelo modelo constitucionalmente
estipulado, produz resultados na dupla interação: com as políticas
criminais e com a linha de montagem que conecta polícia civil,
Ministério Público, Justiça e sistema penitenciário. Pretendo demonstrar
que a falência do sistema investigativo e a inépcia preventiva –entre
cujos efeitos incluem-se a explosão de encarceramentos e seu viés
racista e classista– são também os principais responsáveis pela
insegurança, em suas duas manifestações mais dramáticas, a explosão de
homicídios dolosos e da brutalidade policial letal.
Há pressupostos e implicações teóricas em minha hipótese que devem
ser explicitados, assim como uma interlocução subjacente com a tese
popularizada por Loic Wacquant, em sua influente obra, As Prisões da Miséria (Jorge
Zahar Editora). O autor sugere conexões funcionais entre a adoção do
receituário neoliberal nos Estados Unidos e o aumento dramático das
taxas de encarceramento, sobretudo de pobres e negros. O neoliberalismo,
ao promover o crescimento do desemprego, o esvaziamento de políticas
sociais e a desmontagem de garantias individuais, exigiria a
criminalização da pobreza para aplacar as demandas populares e evitar a
eventual tradução política da exclusão em protagonismo crítico ou
insurgente. Se o exército de reserva da força de trabalho não é mais
necessário, dadas as peculiaridades do sistema econômico globalizado que
transfere a exploração do trabalho para países dependentes, ou
apresenta riscos de converter-se em fonte de instabilidade política,
torna-se conveniente canalizar contingentes numeros dos descartáveis
para o sistema penitenciário. Não por acaso, os EUA viriam a produzir a
maior população penitenciária do mundo. Certo ou errado para o caso
norte-americano, o diagnóstico não se aplica ao Brasil. Entre nós, a
epidemia do encarceramento coincide com os governos do PT, que poderiam
merecer todo tipo de crítica, menos as de serem neoliberais, promotores
de desemprego e do desmonte de políticas e garantias sociais. Pelo
contrário, não resta dúvida quanto às virtudes sociais dos mandatos do
presidente Lula, durante os quais houve redução das desigualdades e
ampliação do emprego e da renda. Contudo, nunca antes na história desse
país prendeu-se tanto. Atribuo a expanção do encarceramento à combinação
entre as estruturas organizacionais das polícias, a adoção de políticas
de segurança que privilegiaram determinados focos seletivos e a
vigência, seguida da potencialização discricionária da Lei de drogas.
Tudo isso em um contexto de crescimento econômico e dinamismo social que
intensifica as cobranças por elevação do rendimento de todas as
instituições. Para demonstrar minha tese, impõe-se um percurso
argumentativo.
I. Voracidade encarceradora enviesada e os circuitos da violência letal
Entre 1980 a 2010, 1 milhão, 98 mil e 675 brasileiros foram
assassinados. O país convive com cerca de 50 mil homicídios dolosos por
ano. A maioria das vítimas são jovens pobres, do sexo masculino,
sobretudo negros. Desse volume aterrador, apenas 8%, em média, são
investigados com sucesso, segundo o Mapa da Violência, do
professor Waiselfisz, publicado em 2012. Mas não nos precipitemos a daí
deduzir que o Brasil seja o país da impunidade, como o populismo penal
conservador e a esquerda punitiva costumam alardear. Pelo contrário,
temos a quarta população carcerária do mundo e, provavelmente, a taxa de
crescimento mais veloz. Ou seja, além de não evitar as mortes violentas
intencionais e de não as investigar, o Estado brasileiro prende muito e
mal. As prioridades estão trocadas. A vida não é valorizada e se abusa
do encarceramento. A privação de liberdade, este atestado de falência
civilizatória, para a qual ainda não dispomos de alternativa hábil,
deveria ser o último recurso, exclusivamente para casos violentos,
crimes contra a pessoa, quando o agressor representasse riscos reais
para a sociedade. Hoje, temos 550 mil presos.
Entre os presos, apenas cerca de 12% cumprem pena por crimes letais.
40% são provisórios. Dois terços dessa população, aproximadamente 367
mil, foram presos sob acusação de tráfico de drogas ou crimes contra o
patrimônio. Fica patente que os crimes contra a vida, assim como as
armas, não constituem prioridade. Os focos são outros: patrimônio e
drogas.
II. Estruturas organizacionais e práticas seletivas
As PMs são definidas como força reserva do Exército e submetidas a um
modelo organizacional concebido à sua imagem e semelhança, fortemente
verticalizado e rígido. A boa forma de uma organização é aquela que
melhor serve ao cumprimento de suas funções. As características
organizacionais do Exército atendem à sua missão constitucional, porque
tornam possível o “pronto emprego”, qualidade essencial às ações bélicas
destinadas à defesa nacional.
A missão das polícias no Estado democrático de direito é inteiramente
diferente daquela que cabe ao Exército. O dever das polícias, vale
reiterar, é prover segurança aos cidadãos, garantindo o cumprimento da
Lei, ou seja, protegendo seus direitos e liberdades contra eventuais
transgressões que os violem. O funcionamento usual das instituições
policiais com presença uniformizada e ostensiva nas ruas, cujos
propósitos são sobretudo preventivos, requer, dada a variedade, a
complexidade e o dinamismo dos problemas a superar, os seguintes
atributos: descentralização; valorização do trabalho na ponta;
flexibilidade no processo decisório nos limites da legalidade, do
respeito aos direitos humanos e dos princípios internacionalmente
concertados que regem o uso comedido da força; plasticidade adaptativa
às especificidades locais; capacidade de interlocução, liderança,
mediação e diagnóstico; liberdade para adoção de iniciativas que
mobilizem outros segmentos da corporação e intervenções governamentais
inter-setoriais. Idealmente, o(a) policial na esquina é um(a) gestor(a)
da segurança em escala territorial limitada com amplo acesso à
comunicação intra e extra-institucional, de corte horizontal e
transversal[1].
A PM é um corpo de servidores públicos pressionado pelo governo, pela
mídia, pela sociedade a trabalhar e produzir resultados, os quais
deveriam ser entendidos como a provisão da garantia de direitos e a
redução da criminalidade, sobretudo violenta, estabilizando e
universalizando expectativas positivas relativamente à cooperação.
Entretanto, resultados não são compreendidos nesses termos, seja porque
interpõe-se a opacidade dos valores da guerra contra o inimigo interno,
seja porque a máquina policial apenas avança para onde aponta seu nariz,
por assim dizer. Em outras palavras, a máquina, para produzir,
respondendo à pressão externa (crescente quando o país cresce e a
sociedade intensifica cobranças, levando os governos a exigir mais
produtividade de seus aparatos), precisa mover-se, isto é, funcionar, e
só o faz segundo as possibilidades oferecidas por seus mecanismos, os
quais operam em sintonia com o repertório proporcionado pela tradição
corporativa, repassado nas interações cotidianas, nos comandos e no
processo de socialização, o qual incorpora e transcende a formação
técnica.
A máquina funciona determinando às equipes de subalternos nas ruas,
pelos canais hierárquicos do comando, ao longo dos turnos de trabalho,
trajetos de patrulhamento, em cujo âmbito realiza-se a vigilância. A
operacionalização depende da subserviência do funcionário que atua na
ponta, ao qual se exige renúncia à dimensão profissional de seu ofício, à
liberdade de pensar, diagnosticar, avaliar, interagir para conhecer,
planejar, decidir, mobilizar recursos multissetoriais, antecipando-se
aos problemas identificados como prioritários. A inexorável
discricionariedade da função policial será exercida nos limites impostos
pela abdicação do pensamento e do protagonismo profissional. Será
reduzida ao arbítrio, porque descarnada da finalidade superior, que
daria sentido à sua ação. O que restará ao policial militar na ponta, na
rua? O que caberá ao soldado? Varrer a rua com os olhos e a audição,
classificando personagens e biotipos, gestos e linguagens corporais,
figurinos e vocabulários, orientado pelo imperativo de funcionar,
produzir, o que significa, para a PM, prender. Ad hoc, no varejo
do cotidiano, só resta ao soldado procurar o flagrante, flagrar a
ocorrência, capturar o suspeito. Os grupos sociais mais vulneráveis
serão também, no quadro maior das desigualdades brasileiras e do racismo
estrutural, os mais vulneráveis à escolha dos policiais, porque eles
projetarão preconceitos no exercício de sua vigilância. Nos territórios
vulneráveis, a tendência será atuar como tropa de ocupação e enfrentar
inimigos. Assim se explicam as milhares de execuções extra-judiciais sob
o título cínico de autos-de-resistência, abençoados pelo MP sem
investigação e arquivados com o aval cúmplice da Justiça, ante a omissão
da mídia e de parte da sociedade.
Por fim, o flagrante exige um tipo penal: na ausência da antiga
vadiagem, está à mão a lei de drogas (e não só). Ou seja, pressionar a
PM a funcionar equivale a lhe cobrar resultados, os quais serão
interpretados não como redução da violência ou resolução de problemas,
mas como efetividade de sua prática, ou seja, como produtividade
confundida com prisões, contabilizada em prisões, aquelas mais prováveis
pelo método disponível, o flagrante. O personagem, o biotipo, o
rótulo, o figurino, o território, a fala, a vigilância no varejo das
ruas, a ação randômica em busca do flagra: não é preciso grandes
articulações funcionais entre macro-economia e políticas sociais, a
proporcionar sobrevida ao capitalismo. Basta a máquina funcionar. Ela
não investiga, porque a fratura do ciclo, prevista no modelo, não
permite. Ela está condenada a enxergar o que se vê na deambulação
vigilante, em busca dos personagens previsíveis, que confirmem o
estereótipo e estejam nas ruas, mostrem-se acessíveis. Ela vai á caça do
personagem socialmente vulnerável, que comete determinados tipos de
delito, captáveis pelo radar do policiamento ostensivo.
Claro que a política criminal é decisiva, assim como a política de
segurança, com suas escolhas de fundo, mas é indiscutível que cumprem
papel determinante a militarização e a ruptura do ciclo do trabalho
policial. A divisão do ciclo, no contexto da cultura corporativa
belicista –herdada da ditadura e do autoritarismo onipresente na
história brasileira–, cria uma polícia exclusivamente ostensiva, cuja
natureza militar –fortemente centralizada e hierarquizada– inibe o
pensamento na ponta, obsta a valorização do policial e de sua autonomia
profissional, e mutila a responsabilidade do agente, degradando a
discricionariedade hermenêutica em arbitrariedade subjetiva. A aprovação
da PEC-51 não resolverá todos os problemas. Longe disso. Entretanto,
pelos motivos expostos, constitui condição sine qua non para que eles comecem a ser enfrentados.
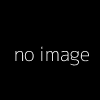










0 comentários :
Postar um comentário